Por isso é que, com a
construção de Brasília, sem esquinas, dizia-se que a vida na cidade não teria
graça, a cidade seria praticamente inabitável. O governo federal, inclusive,
teve de oferecer um capilé a mais aos servidores públicos que transferiu para a
nova capital. Nenhum deles, que vivia no Rio de Janeiro, cheio de esquinas
famosas, se disporia a ir para uma cidade desesquinada. O cala-boca serviu como
motivação financeira para muitos trocarem o Rio por Brasília.
Mesmo em Carabuçu, minha
vilazinha natal lá no norte do estado, tinha sua esquina especial: era o
cruzamento das Ruas Coronel Alfredo Portugal e Coronel Antônio Olímpio de
Figueiredo. Nela estavam as vendas do meu pai, de um lado, e do seu Cirilo
Braz, do outro. Em frente à nossa venda, estava o armarinho do João Mestre e,
do lado de lá, o do tio Nalim. Contudo, a mais festeira, era a próxima. Ali
estavam os bares do tio Tônio Pinto, do Barrosinho, do libanês Mansur Sabino e
o armarinho do Enéas Lírio, que depois transformou seu comércio de tecidos em
negócio de beberagens e tira-gostos. Até hoje, mudados os proprietários,
alterada um pouco a arquitetura, melhorado o urbanismo, com a inclusão de um
calçadão de pedestres, a esquina ferve em determinadas ocasiões.
Há esquinas que até ganham
nome especial, como em Bom Jesus do Itabapoana dos anos 60 a Esquina do Pecado,
na confluência um tanto destrambelhada, fora do esquadro, das ruas Tenente José
Teixeira, Vinte e Um de Abril e Carlos Firmo.
Toda esta introdução é para
levar o leitor ao meu foco principal.
Quando cheguei a Niterói, em
março de 1967, fui morar na pensão da Dona Dinorah, no número vinte e nove da
Rua Pereira da Silva. Na esquina desta, com a Moreira César, a trinta metros da
pensão, já estava estabelecido de alguns anos o bar do Joaquim e do Zé
Português, que se tornaria meu amigo fraterno e colega de pensão e,
posteriormente, de apartamento. Desde então e até o início deste ano, o local
sempre foi bar. Ao seu lado já houve boate, outro bar, loja de roupas, o diabo
a quatro. Mas o bar da esquina resistia ao tempo. O imóvel continua pertencendo
ao meu amigo, embora ele não toque mais o empreendimento.
Nessa esquina, apenas o bar
era o estabelecimento aberto ao público. Em dois cantos estão prédios
residenciais e no último, uma escola pública de ensino fundamental. Assim a
presença do bar sempre animou a esquina, onde também havia uma banca de revista
e outra de flores. Os frequentadores que, por acaso, exagerassem nas doses e
nos belisquetes tinham uma farmácia ao lado onde se socorrer. Vê-se que era um
empreendimento muito bem localizado. E a apenas um quarteirão da praia. Certa
manhã de domingo de verão, quando bebia lá uma cerveja e vendo a excitação do
jovem lusitano João, recém-chegado da Ilha da Madeira, para o serviço de
garrafas e copos, disse ao meu amigo Zé Português, patrão dele:
- Zé, se eu fosse o dono da
firma, não pagaria salário ao João. O pagamento dele seria curtir as garotas
bonitas que por aqui passam em direção à praia.
O João babava ao admirar o
desfile sensual das meninas em seus trajes de banho.
Pois muito bem! A última
empresa que ali explorou o ponto tinha o nome de fantasia de Bar Fragatas.
Espalhando mesas e cadeiras na calçada larga, ganhou o apelido jocoso de
Queima-Filme, já que os beberrões ficavam expostos aos olhares dos passantes.
Numa certa manhã, há alguns
meses, encontrei o bar fechado, já sem os letreiros. Minha mulher, preocupada,
ligou para a casa do Zé e falou com sua esposa, Agostinha, que ficou até mesmo
envergonhada de dizer o montante da dívida que os ex-donos do Fragatas tinham
com eles. Há muito não pagavam o aluguel e foram despejados, por ordem
judicial.
O local, daí a alguns dias,
entrou em obras. Terminados os trabalhos, abriram-se as portas de mais uma
farmácia de uma rede da cidade. E, o pior, sem nenhum charme, sem nenhum
trabalho mais elaborado de arquitetura de interiores que atraia, pelo menos, os
olhares dos passantes. A farmácia é feia como purgante para matar lombriga,
como a rasgadura da lanceta em postema de bicheira. Eu lá não entro.
A esquina está um deserto! Está
morta!
 |
| Imagem em blogdopitako.com.br. |
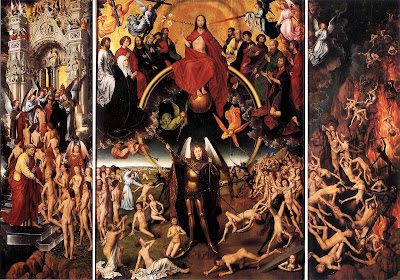.jpg)