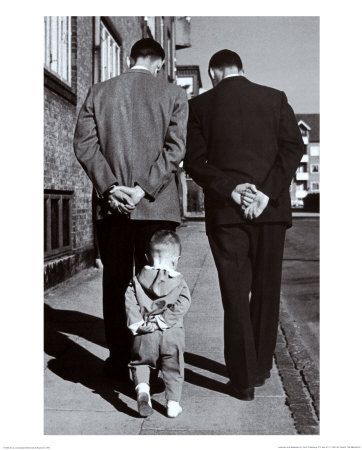|
| Imagem em sorocaba.olx.com.br. |
Apesar de as autoridades cariocas garantirem que, do trágico episódio do desabamento do Edifício Liberdade, no centro da cidade, no início do ano, ainda restarem cinco desaparecidos, nos bares de Vila Isabel corre a história de um sexto sumido nos escombros.
Se os cinco desaparecidos oficiais já constituem uma aberração, de vez que não houve sumiço de escombros, este sexto é um completo despautério (o quequer que a palavra despautério signifique!).
Lico da Formiga, pretendente a compositor de samba e frequentador assíduo dos bares das imediações da Vinte e Oito, é o nome da possível vítima.
No fatídico dia do evento, ele não havia dado as caras em nenhum dos estabelecimentos de costume, porque sofrera um descontrole intestinal imoral, de não lhe permitir se afastar mais de cinco metros do banheiro, a bacia – como os arquitetos gostam de chamar o vaso sanitário – a reclamar a sua presença a cada trinta minutos. Assim permaneceu homiziado em sua aprazível residência de dois andares, encarapitada na Ladeira do Sossego, churrasqueira de roda de caminhão na laje e ducha de mangueira, para os dias de calor.
Como estivera, por todo aquele dia, em decúbito dorsal na cama, pôde acompanhar a cobertura televisiva completa sobre a ruína dos prédios da Rua Heitor de Melo, nos fundos do Teatro Municipal. Mergulhou tanto no noticiário, que bolou intrincado plano de também ter morrido soterrado, ao analisar pormenorizadamente a grave situação em que sua pessoa, como gostava de a si mesmo se referir, estava metida.
Dentre as pendências a que um exame apenas passageiro aludiria estava um mato esquisito que andava queimando, na base no pendura – coisa de cobrança já começando a incomodar –, e umas “ampolas de cerva”, outra de suas expressões favoritas, deixadas no ora-veja em dois ou três botequins ali pela Gonzaga Bastos, Visconde de Abaeté e Souza Franco. Era débito demais para o pouco crédito de que dispunha. E encontrou naquele acontecimento infausto a possibilidade de saldar tais compromissos, com sua morte incerta e não sabida entre os entulhos dos edifícios desabados. Além disso, nenhum dos sambas que compusera merecera a mínima atenção da ala de compositores do Bloco Carnavalesco Sovaco da Formiga. O que – vamos e venhamos – já se tratava de deslavada desconsideração.
Detalhou, então, o plano para a “criatura” com quem dividia os trampos da vida: iria para o sítio de um “pessoal seu” em Carabuçu, lá no norte do estado. Ficaria lá por uns meses. Enquanto isso deixaria barba e cabelo crescerem. Dois dias depois do acidente dos prédios, a criatura, que atendia pelo nome de Maricleyde, espalharia para as vizinhas suas preocupações sobre o paradeiro do marido, que lhe dissera ir fazer um bico noturno perto da Cinelândia. No terceiro dia, ela se mostraria desesperada pela falta de notícias dele, “homem bom, prestativo, que nunca deixara faltar nada em casa, uma alma cândida”. No quinto, iria para a frente dos escombros e, aproveitando-se da presença constante das câmaras, mostraria um cartaz feito à mão com os dizeres “Procuro Lico da Formiga, meu marido”. Se algum microfone lhe fosse franqueado, contaria o enredo que armaram e a sua preocupação de que o trabalho extra seria exatamente num dos prédios. E assim repetisse, até que a montanha retorcida de entulhos dali fosse removida.
Todas os dias em que cumprisse essa rotina, passaria pelos botecos que ele frequentava procurando por Lico e dizendo de seus temores sobre a “desgraça que poderia ter ocorrido em sua vida”.
O acompanhamento da procura de corpos nos entulhos removidos também seria outra tarefa dela. Se possível, subiria sobre a pilha de tijolos e vergalhões, alucinada, procurando pelo “amor da sua vida”.
Como o corpo não seria mesmo encontrado, nem com ajuda de mandingueiro estabelecido, ela iria à delegacia do bairro comunicar seu sumiço.
Passado o primeiro mês do “luto fechado” em que se meteria, voltaria a frequentar a noite do Boulevard, mostrando-se, pouco a pouco, conformada com a tragédia do destino. E os credores teriam piedade dela, bem como o pessoal que comercia com ervas e pós, já que era uma pessoa muito benquista por todos, trabalhadora que só ela.
Até que numa noite qualquer, depois de quatro meses, ela começaria a se encantar com um cara novo, barbudo, cabeleira antiga black-power, grandes óculos escuros em plena noite, que chegaria para ela, todo cheio de dedos, muito respeitoso.
E ela lhe contaria da desgraça por que passara. Ele se condoeria com tal sorte e lhe diria, “com toda a pureza de seu coração”, que se sentiu balançado por ela, pelo seu jeito, e que estaria disposto a começar uma nova história com “a pessoa dela”, para soterrar o passado – “com perdão da palavra, que ela traz péssimas recordações”. E ela faria uma cara de espanto, a princípio, para que os circunstantes pudessem testemunhar que ela não era tão fácil assim e talvez ainda sofresse com o desaparecimento de Lico. E, depois de mais alguns encontros ali com aquele homem estranho ao pedaço, ela o convidaria para ir morar no barraco que o outro construiu com tanto gosto, mas que também já estava muito grande para um só – ela, uma mulher jovem, não poderia morrer com seu ex-amor.
Mas, como já dizia Abraham Lincoln acerca de políticos enganadores, mas que também se aplica a qualquer tipo de espertalhão, um dia a pantomima armada por Lico da Formiga teve seu fim inglório.
Certa noite de sexta-feira, após tomar algumas com os novos camaradas que fizera sob o disfarce de Aurênio, "vindo dos grotões de Carabuçu, conhece?", ele deixou a carteira cair do bolso largo do bermudão próximo ao balcão do boteco, onde se habituara a encostar o umbigo. Desatento, foi para casa.
O garçom encontrou a carteira e a abriu, para pesquisar a quem pertencia. Lá estava a identidade do malandro: Júlio César dos Santos, o Lico dos penduras perdidos, das dívidas caídas na paga de Deus, dos tombos no pessoal da erva e do pó.
O dono do botequim, o fel da vingança a amargar-lhe a boca, achou por bem que estes últimos é que deveriam ser informados em primeiro lugar.
E, quando Maricleyde foi mandada ao bar, para resgatar sua carteira, já voltou com péssimas impressões do clima sentido no ambiente.
Mal acabou de relatar ao companheiro a situação, e a mochila já estava pronta.
Aurênio, ou melhor, Lico da Formiga, deu linha na pipa, um perdido geral na rapaziada, de nunca mais ser reportado.
Maricleyde, no dia seguinte, também caçou seu rumo e, orientada pelo espertalhão, misturou-se a uma turma de romeiros que foi pedir a proteção de Frei Galvão, em seu santuário de Guaratinguetá.
E, para não despertar suspeitas, entrou na fila das pílulas milagrosas do santo. Quem sabe o primeiro santo brasileiro não quebrasse o seu galho!